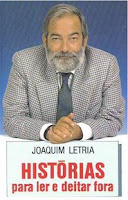PENSEI QUE NÃO SE FALAVA assim ao Pai Natal, mas o homem repetiu, para que não me restassem dúvidas:
.
- Se voltas a sair daqui da porta, apanhas uma palmada!
- Se voltas a sair daqui da porta, apanhas uma palmada!
.
O Pai Natal ficou meio amuado, meio medroso, como todos os miúdos a quem se promete pancada. Segurando os três balões de cores diferentes na mão esquerda, agitou violentamente o sino com a mão direita, de modo a se fazer ouvir por cima do barulho daquela rua comercial.
Por debaixo do fato vermelho e do algodão branco das barbas, o Pai Natal não tinha para mais de doze anos e muito menos para apanhar uma palmada. Se em vez de Natal estivéssemos no Carnaval, qualquer pessoa pensaria que se tratava dum miúdo mascarado.
O Pai Natal ficou meio amuado, meio medroso, como todos os miúdos a quem se promete pancada. Segurando os três balões de cores diferentes na mão esquerda, agitou violentamente o sino com a mão direita, de modo a se fazer ouvir por cima do barulho daquela rua comercial.
Por debaixo do fato vermelho e do algodão branco das barbas, o Pai Natal não tinha para mais de doze anos e muito menos para apanhar uma palmada. Se em vez de Natal estivéssemos no Carnaval, qualquer pessoa pensaria que se tratava dum miúdo mascarado.
- Ó filho, não vês que é um Pai Natal a fingir? - disse uma mãe a um filho mais incrédulo, mas não tanto que deixasse de acreditar que todos os anos há um senhor com um trenó carregado de prendas puxado por renas, que vem do Norte despejar presentes pelas chaminés.
.
A voz tonitruante, ameaçadora, do comerciante lembrava a todos os que passavam que vivíamos o auge da grande saison da paz e do amor.
A voz tonitruante, ameaçadora, do comerciante lembrava a todos os que passavam que vivíamos o auge da grande saison da paz e do amor.
.
- Pago-te para estares aqui à porta não é para andares a passear por aí. Se te apanho outra vez a afastares-te, não te pago e corro-te a pontapés!
- Pago-te para estares aqui à porta não é para andares a passear por aí. Se te apanho outra vez a afastares-te, não te pago e corro-te a pontapés!
.
Aquele fato era, nitidamente, maior do que o corpo que o não enchia, o que se poderia atribuir ao planeamento correcto dum comerciante moderno que vestia o seu Pai Natal com roupa suficientemente grande para permitir o seu crescimento.
Não se percebia a razão pela qual o dono da loja não havia escolhido um Pai Natal à medida, mas também isso certamente se poderia ficar a dever a uma análise e estudo aprofundados de custos e benefícios, pois sem dúvida que um Pai Natal mais pequeno deveria sair mais barato e fazia o mesmo efeito.
Aquele fato era, nitidamente, maior do que o corpo que o não enchia, o que se poderia atribuir ao planeamento correcto dum comerciante moderno que vestia o seu Pai Natal com roupa suficientemente grande para permitir o seu crescimento.
Não se percebia a razão pela qual o dono da loja não havia escolhido um Pai Natal à medida, mas também isso certamente se poderia ficar a dever a uma análise e estudo aprofundados de custos e benefícios, pois sem dúvida que um Pai Natal mais pequeno deveria sair mais barato e fazia o mesmo efeito.
.
- Ó mãe, deixa ver o Pai Natal.
- Ó mãe, deixa ver o Pai Natal.
.
Nessa altura, o Pai Natal dava ao sino, olhava para o outro lado da rua e afastava-se um pouco. Ao vê-lo assim proceder, era difícil não concluir que o Pai Natal tinha vergonha.
Nessa altura, o Pai Natal dava ao sino, olhava para o outro lado da rua e afastava-se um pouco. Ao vê-lo assim proceder, era difícil não concluir que o Pai Natal tinha vergonha.
.
- Ó mãe, o Pai Natal é um menino como nós? - perguntou uma menina.
- Ó filha, não! Não vês que este é um Pai Natal a brincar?
- Ó mãe, o Pai Natal é um menino como nós? - perguntou uma menina.
- Ó filha, não! Não vês que este é um Pai Natal a brincar?
.
Debaixo das barbas, o Pai Natal teve um sobressalto e olhou espantado. A brincar?! Das nove da manhã às sete da noite, de badalo e balões nas mãos, quer chovesse quer fizesse sol, durante uma semana inteirinha, era brincar? O Pai Natal não concordava. Parou de dar ao sino, enquanto a outra mão, vermelha das guitas e do frio, deixava fugir um balão que subiu até se perder de vista por cima dos prédios, arrastado pelo vento.
Debaixo das barbas, o Pai Natal teve um sobressalto e olhou espantado. A brincar?! Das nove da manhã às sete da noite, de badalo e balões nas mãos, quer chovesse quer fizesse sol, durante uma semana inteirinha, era brincar? O Pai Natal não concordava. Parou de dar ao sino, enquanto a outra mão, vermelha das guitas e do frio, deixava fugir um balão que subiu até se perder de vista por cima dos prédios, arrastado pelo vento.
.
- Ó mãe, olha um balão do Pai Natal....
- Ó mãe, olha um balão do Pai Natal....
.
A pouco e pouco, o Pai Natal estava de novo longe da porta da loja a que pertencia, e junto do cigano que vendia pistolas à cowboy, com um cesto poisado à beira do passeio.
Era um velho cigano, todo vestido de preto, com um grande bigode branco que tinha uma grande mancha amarela de tabaco. Olhou o Pai Natal, riu, e disse numa voz profunda:
A pouco e pouco, o Pai Natal estava de novo longe da porta da loja a que pertencia, e junto do cigano que vendia pistolas à cowboy, com um cesto poisado à beira do passeio.
Era um velho cigano, todo vestido de preto, com um grande bigode branco que tinha uma grande mancha amarela de tabaco. Olhou o Pai Natal, riu, e disse numa voz profunda:
.
- Queres uma? Eu dou-te. Toma lá uma, para tu brincares.
- Queres uma? Eu dou-te. Toma lá uma, para tu brincares.
.
Naquela noite, quando os meninos estavam já todos de pijama, depois de tomarem banho antes do jantar, houve quem visse um Pai Natal, com a barba de algodão branco a esvoaçar, presa por um elástico ao pescoço, andar pendurado nos tróleis e nos autocarros, a dar tiros para o ar com uma pistola de fulminantes.
E os meninos, muito penteadinhos, nos seus pijaminhas quentinhos, ficaram muito assustados quando as mamãs lhes disseram:
Naquela noite, quando os meninos estavam já todos de pijama, depois de tomarem banho antes do jantar, houve quem visse um Pai Natal, com a barba de algodão branco a esvoaçar, presa por um elástico ao pescoço, andar pendurado nos tróleis e nos autocarros, a dar tiros para o ar com uma pistola de fulminantes.
E os meninos, muito penteadinhos, nos seus pijaminhas quentinhos, ficaram muito assustados quando as mamãs lhes disseram:
.
- Se não comes a sopa, chamo o cigano e digo ao Pai Natal para não te dar nada.
- Se não comes a sopa, chamo o cigano e digo ao Pai Natal para não te dar nada.
.
Se os meninos conhecessem esta história, tinham rido a bandeiras despregadas e pedido para nunca mais ninguém escrever contos de Natal.